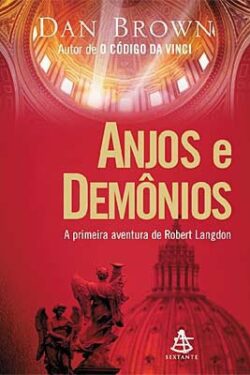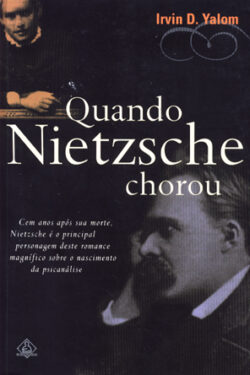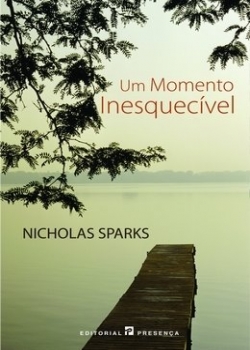Uma história sobre monogamia, relações amorosas, solidão e sensibilidade masculina, temperada por música pop, ironia e bom humor. Assim é o romance de estréia de Nick Hornby, Alta fidelidade. Em Londres, após ser abandonado por Laura Lydon, sua última namorada, Rob Fleming, dono de uma loja semifalida de discos de vinil, faz um balanço das cinco piores separações da sua vida: Alison, Penny, Jackie, Charlie e Sarah. Laura, uma advogada bem-sucedida e atraente, ficou fora da lista por não ter provocado muito sofrimento; além disso, ela o trocou por Ian, um vizinho que ouvia discos horríveis. Rob busca consolo com os balconistas de sua loja, Bary e Dick, com quem mantém conversas tipicamente masculinas sobre outras listas, dos melhores filmes — entre eles Cães de aluguel — aos melhores episódios do seriado Cheers, passando, naturalmente, pelas melhores músicas. Rob tenta sair com uma cantora americana, Marie, mas o caso não dá certo. Ele volta a encontrar Laura e decide reconquistá-la. No meio do processo, no entanto, começa a fazer uma reflexão sobre a vida aos 35 anos, as lições que ela traz e todos os compromissos e desilusões que ela implica. Narrado na primeira pessoa por Rob – um alter-ego de Nick? – Alta fidelidade é um romance de geração. Por trás do auto-retrato de um perdedor, surge uma análise fascinante da desorientação afetiva deste final de milênio, da busca pela felicidade — e pela fidelidade — a qualquer preço.
Alta fidelidade – Nick Hornby
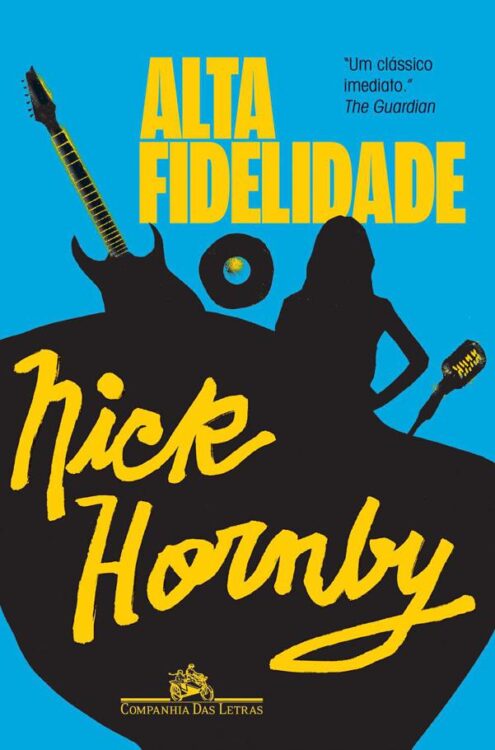
Para Virginia
ANTES...
Em ordem cronológica, meus cinco términos de namoro mais memoráveis de todos os tempos, aqueles que eu levaria pra uma ilha deserta:
1. Alison Ashworth
2. Penny Hardwick
3. Jackie Allen
4. Charlie Nicholson
5. Sarah Kendrew
Esses foram os que doeram de verdade. Tá vendo seu nome aí no meio, Laura? Acho que, raspando, até entrava nos dez mais, mas entre os top five não tem lugar pra você; essa lista está reservada para aquele tipo de humilhação e desgosto que você simplesmente não é capaz de causar. Isso provavelmente soou mais cruel do que eu pretendia, mas o fato é que a gente já passou da idade em que é capaz de deixar o outro na pior, o que é uma coisa boa, e não uma coisa ruim, então não precisa levar pro lado pessoal o fato de não ter entrado na lista. Essa época já era e, porra, demorou; ser infeliz realmente significava alguma coisa antes. Agora é só uma aporrinhação, tipo um resfriado ou falta de dinheiro. Se você queria detonar comigo de verdade, devia ter aparecido antes na minha vida.
1. ALISON ASHWORTH (1972)
Quase todo final de tarde a gente saía pra zoar no parque na esquina da minha casa. Eu morava em Hertfordshire, mas daria na mesma se morasse em qualquer subúrbio da Inglaterra: aquele era um típico subúrbio com seu típico parque — a três minutos de casa, bem em frente a uma rua com um pequeno comércio (um supermercado, uma banca de jornal, uma loja de bebidas). Nada ali em volta serviria como pista da localização geográfica do lugar; se o comércio estivesse aberto (e fechava sempre às cinco e meia da tarde, à uma às quintas, e nem abria aos domingos), seria possível entrar na banca e dar uma olhada no jornal local, mas nem isso revelaria muita coisa.
A gente tinha doze ou treze anos, e não fazia muito tempo que havia descoberto a ironia — ou, ao menos, o que eu mais tarde entendi que se chamava ironia: só nos permitíamos brincar nos balanços e no gira-gira e nos outros equipamentos infantis que enferrujavam por ali se fosse com certo tipo de distanciamento autoconsciente e irônico. Isso envolvia uma simulação de indiferença (assobiar, ou bater papo, ou manusear um maço de cigarros ou uma caixa de fósforos serviam bem ao propósito), ou um flerte com o perigo, e aí saltávamos dos balanços do ponto mais alto que podiam atingir, embarcávamos no gira-gira no pico de velocidade de seus giros, nos aboletávamos num dos extremos do barco viking até que, ali, atingíssemos uma posição quase vertical no ar. Uma vez que se conseguisse provar que aquelas diversões infantis tinham potencial pra arrebentar a cabeça de alguém, brincar no parquinho se tornava, de certa forma, aceitável.
Não sabíamos o que era ironia, porém, quando se tratava de meninas. Não tínhamos tido tempo ainda pra desenvolvê-la. Uma hora elas nem existiam, não de um jeito que pudesse nos interessar, de qualquer maneira, e de repente a gente não podia mais se livrar delas; estavam por toda parte, em todo canto. Uma hora o que a gente queria era dar uns cascudos nelas por serem nossas irmãs, e de repente o que a gente queria era... a gente não sabia bem o que passou a querer de repente, na verdade, mas era alguma coisa, alguma coisa. Quase que da noite pro dia, aquelas irmãs todas (não havia nenhum outro tipo de menina até então) tinham se tornado interessantes, perturbadoras até.
Vejam, o que tínhamos nós de diferente do que tivéramos até ali? Vozes esganiçadas, mas isso não ajuda muito, sério — só te torna ridículo, não desejável. E nossos nascentes pelos púbicos eram um segredo nosso, estritamente guardado entre nós e nossas cuecas, e demoraria anos até que uma representante do sexo oposto pudesse verificar que eles estavam ali, bem onde deveriam estar. As meninas, por outro lado, muito claramente tinham peitos, e um novo jeito de andar, como complemento: braços cruzados na frente, uma postura que simultaneamente disfarçava a novidade e chamava atenção pra ela. E também tinha a maquiagem e o