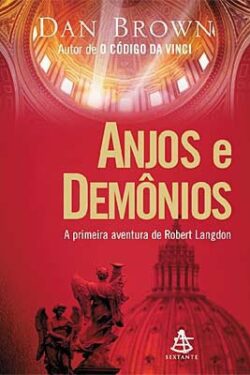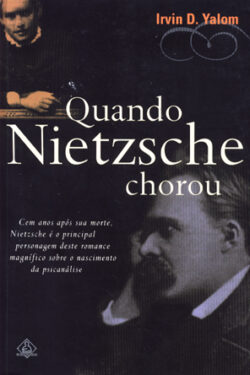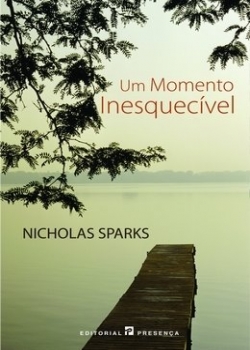Durante muitas décadas a poesia A Pátria, de Olavo Bilac, foi lida, decorada e recitada pelas crianças brasileiras. Os versos iniciais diziam: “Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!/ Criança! Não verás nenhum país como este!” Não deixa de ser uma ironia cruel encontrar o verso bilaqueano adotado como título (e com seu significado virado pelo avesso) de um dos romances mais devastadores e pessimistas da literatura brasileira, o oposto do róseo otimismo do poeta das estrelas, Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão.
Enquanto gerações de crianças brasileiras recitavam o poema de Bilac, o país (aliás, em sintonia com o mundo) ia acelerando, lentamente, o seu processo de autodestruição, com a devastação das florestas, o acúmulo de lixo, a degradação do meio ambiente, a que se juntou, nos últimos tempos, à destruição da camada de ozônio do planeta, projetando perspectivas sombrias para a humanidade.
Romance apocalíptico, no sentido de contar uma história do fim dos tempos, Não Verás País Nenhum se desenrola em um futuro não determinado, mas cada vez mais presente na realidade do brasileiro. Uma época terrível, na qual a Amazônia se transformou em um deserto sem nenhuma árvore; onde “O lixo forma setenta e sete colinas que ondulam, habitadas, todas. E o sol, violento demais, corrói e apodrece a carne em poucas horas”; onde a carência de água impõe a reciclagem da urina, bebida pelas pessoas. A administração do país chegou ao caos. Governantes medíocres, cada vez mais afastados do povo, interessados apenas em vantagens pessoais, uma polícia corrupta e assustadora.
No meio desse mundo sombrio, uma história de amor, na qual o autor sugere que nem tudo está perdido, pelo menos enquanto o bicho-homem alimentar esperanças e for capaz de gestos de generosidade.
Não Veras País Nenhum – Ignácio de Loyola Brandão

Ignácio de Loyola Brandão
NÃO VERÁS PAÍS NENHUM
PRÊMIO ILLA COMO O
MELHOR LIVRO LATINO-AMERICANO
PUBLICADO NA ITÁLIA EM 1983
1ª edição digital
São Paulo
2012
Adelaide conta como os repulsivos carecas estão invadindo o bairro, sem nenhum controle. Depois, faz gargarejo com groselha e dorme
Os helicópteros passam quase rasteiros, seguem pelo espaço das grandes avenidas. Controlam a multidão. As pás giram com zumbido ameaçador. Quando vejo esses besouros metálicos, me vem uma sensação paradoxal de morte e liberdade. Carregam metralhadoras e bombas de efeito desmoralizante.
Lançam redes sobre ajuntamentos, expelem líquidos coloridos que paralisam, produzem fumaça tóxica. Têm mil e uma utilidades. No entanto me fascinam. Essa capacidade de estar acima, onipotente. Esse voo desconjuntado de ave pré-histórica. Eles têm o poder de escapar, partir.
Os helicópteros são auxiliados, em seu trabalho de controle coletivo, pelos respiradouros de gás. As bocas camufladas podem ser acionadas eletronicamente a bordo desses aparelhos. Basta utilizar os códigos segundo a região que estejam rondando. Os respiradouros são terríveis.
Fiquei sem o Sônico, mas logo apareceu alguém vendendo. Dos cantos de portas, das bocas de lobo, esquinas, tocas, de qualquer lugar, os camelôs ressurgem. Reencontrarão os fiscais, serão perseguidos. Imagino, às vezes, que seja um grande jogo, gato e rato, para afastar a monotonia.
Tudo funciona como um ecossistema. Um moto-contínuo. Ah, o moto-contínuo de meu parente, o Sebastião Bandeira. Pensando bem, teve gente interessante em minha família. Até que tenho a quem puxar, com essa cabeça fantasiosa, um pouco febril demais, me diz Adelaide.
Adelaide me esperava à porta do prédio. Escondida no corredor de entrada, porque não dá para facilitar, com tanta gente desconhecida e estranha. Ainda mais ela que é desconfiada e medrosa. Adelaide se esconde ali, esperando o carteiro. Há anos, aguarda uma carta.
– Chegou?
– Não.
A minha pergunta é automática, como o gesto de acariciar seu ombro esquerdo. Suas respostas também. Há anos, trocamos essas quatro frases na porta e elas me parecem uma das provas de que há coisas imutáveis neste mundo. No dia em que essa carta impossível chegar, será o vazio.
Entramos. Tomei banho, descansei. Como todos os dias. Tentei fazer tudo normalmente, Adelaide pressente mudanças mínimas no meu modo de ser. Pela entonação da voz sabe se estou bem, preocupado ou alegre. Tem bom ouvido. A mesa estava posta, uma panela no fogo. Não quis me sentar.
– Você precisa comer.
– Não tenho fome.
– Se não come por causa do calor, não vai comer nunca.
Ficamos diante da televisão, esperando o início da novela. Quando surgiram os letreiros, mostrei o furo. Ela me olhou, inquieta. Esperando que eu explicasse, que eu dissesse alguma coisa. Não é normal o marido voltar para casa com um furo na mão, como se nada tivesse acontecido.
Adelaide começou a chorar quando me viu quieto, indiferente. E eu parecia disposto a não explicar. Também explicar o quê? Uma coisa que eu mesmo não entendia? Ela não é habituada a aceitar sem que digam o porquê. Tem de ser tudo muito claro. A única exceção é para a religião.
– Dói muito?
– Não dói nada.
– Foi acidente?
– Não! Apareceu de repente!
– Não, Souza. Uma coisa dessas não aparece. Alguma coisa aconteceu. O que foi?
– Nada, estava no ônibus e a mão coçou. Quando coçou de novo, vi que o buraco estava começando. Quando desci na cidade, o furo estava pronto.
– O que você está escondendo?
– Nada. É a pura verdade, juro.
– Você sempre me contou tudo, Souza.
Repisaríamos a história a noite toda. Ela remoeria as mesmas perguntas. Porque não tem sutilezas. Pensei em inventar uma desculpa, arranjar uma história. Nem precisava ser tão verossímil, apenas algo que fosse menos obscuro. Que tivesse uma base sólida, que parecesse palpável.
– Mas não dói nada, nada?
– Não.
– Você foi ao médico?
– Para quê?
– Para examinar isso. Quem sabe o médico tem uma explicação.
– Não quer